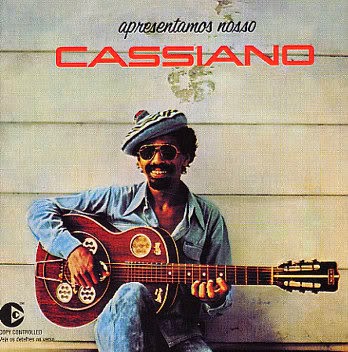por Ricardo Viel*
Morreu ontem, 17 de abril, aos 87 anos, um dos mais influentes e brilhantes escritores de todos os tempos: o colombiano Gabriel García Márquez, vencedor do Nobel de Literatura de 1982. Em 2010, nosso colunista Ricardo Viel fez uma reportagem sobre Márquez que achamos por bem republicá-la. Gabo, como era carinhosamente chamado, disse certa vez: “A vida não é aquilo que vivemos, senão o que recordamos e como recordamos para contar.” Para Ricardo, as muralhas que protegem a cidade colombiana de Cartagena de Índias, de calor inclemente, com sacadas das típicas casas do centro antigo, tornou difícil sua missão de dizer qual a lembrança mais marcante da “cidade mais bela do mundo”, segundo o próprio escritor. Na reportagem, você vai conhecer um pouco mais os lugares e histórias das pessoas que fazem parte da obra do colombiano. “De lá, além das histórias, trouxe uma semente de amêndoa, árvore presente nos relatos de Gabo”, relembra o repórter.
Dizem que uma mulher de vermelho anda pelos corredores
Um senhor de estatura mediana, óculos exageradamente grandes, pele morena e cabelos e bigodes grisalhos, caminha pelo pátio do convento de Santa Clara, em Cartagena de Índias, no Caribe colombiano. Misturado aos engenheiros, arquitetos e operários que trabalham na restauração do prédio, o homem vestido de branco e com um chapéu panamá enterrado na cabeça transita pelo mosteiro em busca de inspiração para sua nova novela. Na visita a uma tumba, o escritor, um colombiano conhecido mundialmente como Gabo, se recorda de uma visita que fez ao convento, quarenta anos antes, por conta de uma reportagem. Lembrança tão viva como se tivesse voltado ao meio dia daquele outubro de 1949 e vivesse aquilo pela primeira vez.
Gabriel Garcia Márquez venceu com dificuldade as poucas quadras que separavam a redação do “El Universal” do convento de Santa Clara. Buscou refúgio na sombra das varandas coloridas do centro da histórica cidade, mas chegou ao mosteiro empapado de suor e descrente de que a tarefa de acompanhar a desocupação das tumbas poderia render muito mais do que alguns centímetros no jornal do dia seguinte. O prédio do século 17 estava prestes a mudar de função: sairiam as freiras e entrariam os hóspedes de um hotel de luxo – motivo da retirada dos restos mortais. Nos fundos da capela, o processo da desocupação das tumbas onde, há séculos, repousavam religiosos e nobres da cidade, já estava em marcha. De um buraco no chão, imersos em uma nuvem de poeira, três operários, em um ritual silencioso e coordenado, retiravam os ossos, faziam com eles pequenos montes e os identificavam. Quando da abertura da terceira cripta, que trazia escrito o nome sem sobrenome de Sierva Maria de Todos los Ángeles, o repórter se deu conta de que aquele 26 de outubro de 1949 ficaria marcado para sempre em sua vida. Quarenta e cinco anos depois, Gabo dedicaria o prólogo de seu livro “Do Amor e de Outros Demônios” a contar essa história.
Na terceira urna, ao lado do evangelho, ali estava a notícia. A lápide se espedaçou com o primeiro golpe de picareta, e uma cabeleira viva, de uma cor de cobre intenso, se derramou para fora da cripta [...] Estendida no chão, a cabeleira esplendida media vinte e dois metros e onze centímetros.
A novela é inspirada na lenda, contada por sua avó, de uma marquesa, dona de uma cabeleira ruiva, tão grande "que se arrastava como véu de noiva", que após morrer de raiva aos 12 anos de idade passou a ser venerada no Caribe por seus milagres. "A ideia de que essa tumba pudesse ser a sua, foi minha notícia daquele dia e a origem deste livro."
Uma catacumba é o atrativo
O antigo convento de Santa Clara é hoje um hotel cinco estrelas, o mais luxuoso da cidade. Em 1987, a rede Sofitel comprou o prédio com a condição de restaurá-lo e preservar suas características. A capela, os quartos das freiras clarissas (transformados em habitações para os hóspedes) e as criptas funerárias, foi recuperado em um processo que durou quase uma década. E são justamente as catacumbas do prédio, em especial uma delas, o maior atrativo do lugar. No centro de um bar estilo “lounge”, entre um sofá e outro, escondida pela pouca luz do ambiente, há uma escada. Três metros abaixo do nível do chão, em uma salinha pequena, sufocante, e decorada com um candelabro, está a tumba aberta e vazia de Sierva Maria de Todos los Ángeles.
“Não gosto muito de ficar aqui. Não sei, me dá um pouco de medo”, cochicha Yanelis Sepúlveda enquanto desce os seis degraus que levam à cripta. A mulata de 28 anos, bela e elegante, é consierge do hotel Santa Clara desde 2002. Está acostumada a mostrar a "hóspedes especiais" (leia-se autoridades e afins) o amplo jardim do antigo convento onde as clarissas cultivavam rosas, os túneis que ligavam clandestinamente as freiras ao mundo exterior e as antigas habitações do mosteiro.
Com um sorriso no rosto, apresenta aos visitantes a capela barroca, o antigo refeitório (hoje um luxuoso restaurante) e lhes pousa Clara, um simpático tucano, nos braços para fotos. Mas se não for solicitado, Yanelis desvia das lápides e das celas onde as freiras de mau-comportamento (como Sierva Maria de Todos los Ángeles no livro de García Márquez) eram enclausuradas. Para ela, o lugar é assombrado.
“Dizem que há uma mulher, vestida de vermelho, que costuma andar pelos corredores. Eu nunca vi. Mas também nunca ando sozinha aqui de noite. Nunca vi nada, mas já escutei uma gargalhada muito alta vinda de um quarto que estava desocupado. Também já senti uma respiração no meu pescoço quando eu entrava na capela”, mostra o braço com os pêlos levantados.
Leitora atenta de Garcia Márquez, Yanelis consegue identificar no convento os cenários descritos pelo escritor na novela, mas traz consigo uma dúvida: “Gostaria de perguntar a ele, saber o que é sua criação e o que é verdade nessa história toda. Se ele realmente entrou na cripta, se a Sierva Maria estava lá. O que ele viu, de verdade, quando entrou lá”.
A pergunta poderia ter sido feita pessoalmente ao escritor em duas oportunidades, mas faltou coragem à mulata. “Em uma delas, era para um encontro muito confidencial. Estava cheio de seguranças, ele ia se encontrar com alguém para mediar um processo de paz. Alguma coisa a ver com a ONU. Não me atrevi. Da outra, era uma festa. Eu vi aquele velhinho tão divino e fiquei com vergonha de atrapalhar a festa dele”, lamenta.
O hotel, cuja hospedagem mais econômica custa 350 dólares, permanece algumas horas do dia aberto à visitação. Diariamente, curiosos acudem à sala das criptas. Em um livro de presença aberto sobre à lápide os amantes da prosa de García Márquez deixam suas mensagens; em geral, registros de passagem como este: “No dia 11 de agosto de 2009, Vinicius e Carolina estiveram em Cartagena e visitaram a tumba de Sierva Maria de Todos los Ángeles.” Há muitos anos, a história dos metros de cabelos encanta e comove leitores do mundo todo.
"É preciso pinçar o que ele escreve"
A poucos metros do convento, um muro alto alaranjado esconde um sobrado de esquina, com um jardim amplo e bem cuidado. O morador do número 38-205 da rua Del Curato, era Gabriel Garcia Márquez. A construção da casa do escritor – que desde os anos 60 vivia no México –, explica muito da história de Sierva Maria de Todos los Ángeles.
“Na época em que escreveu o livro, Gabito passou muitos meses em Cartagena, porque acompanhava as obras em sua casa. Seguramente a restauração do convento o influenciou a escrever a história”, conta Jaime García Márquez, um dos 14 irmãos do escritor e diretor da fundação criada em 1995 por Gabo para fomentar o jornalismo na América Latina, a FNPI.
Quanto à reportagem citada no início do livro, Jaime García faz uma observação enigmática: “É preciso pinçar o que ele escreve”.
A explicação para o comentário surge quando as peças do quebra-cabeça são aproximadas. Elas não se encaixam. O convento de Santa Clara foi o hospital local universitário de Cartagena até a metade dos anos 1970. Abandonado e em ruínas, o prédio foi comprado pela cadeia de hotéis Sofitel em 1987. Gabriel Garcia Márquez pode até ter visitado o local em 1949, mas não acompanhou nenhuma remoção, pelo simples fato de que elas, se de fato existiram, aconteceram quarenta anos depois, na época da restauração.
Os textos de García Márquez em sua época de repórter em Cartagena e Barranquilla foram recompilados, mas não há nenhuma reportagem sobre o convento de Santa Clara. O jornalista colombiano Gustavo Arango, autor do livro “Un ramo de no me olvides: Gabriel García Márquez en El Universal” (inédito no Brasil), buscou e jamais encontrou a reportagem de Gabo no convento.
“O que ele fez no prólogo do livro foi sobrepor eventos. Detrás das imprecisões dos fatos por ele narrados, há verdades muito certeiras. Acredito que a mais importante é apontar essa época como muito importante em sua vida. Suas primeiras experiências como repórter e a influência de Clemente Manuel Zabala no seu início [o nome de Zabala, primeiro chefe e mentor de Gabo, é citado na introdução do livro]”, explica Arango. Segundo o pesquisador, tampouco é de toda verdadeira a afirmação de Gabo de que dia 26 de outubro de 1949 não foi um “dia de grandes notícias” em Cartagena.
“Me dediquei a procurar o que havia acontecido nesse dia, e de fato, na Assembléia Municipal, houve uma violenta briga entre os políticos. Aqueles dias foram intensos em matéria política”, acrescenta.
Arango também teoriza sobre a data citada pelo novelista no prólogo do livro. “Fiz várias conjecturas, talvez descabeladas. Gabo gosta muito do mês de outubro. Em 'Ninguém escreve ao coronel' (1961) ele fala de outubro, das chuvas de outubro. Em muitos outros livros aparecem 'outubros chuvosos'. O 'Outono do Patriarca' (1975) está cheio de outubros. Quanto à data exata, há um dado curioso: em alguns livros antigos fala-se que o momento em que Deus diz: 'faça-se a luz' foi em 26 de outubro. Aproximadamente às nove da manhã.”
Jaime García Márquez também lê o prólogo de "Do Amor e de Outros Demônios" como uma homenagem a Clemente Manuel Zabala. Uma forma que o escritor encontrou de "reconhecer a importância do chefe em seu começo de carreira como jornalista". Para ele, a chave para entender toda a obra do irmão está na autobiografia “Viver para Contar” (2002), mas precisamente na frase fundamental do livro: “A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la”. Para Jaime, a mensagem é endereçada aos amigos e familiares e tem como objetivo dizer-lhes: não busquem incoerências ou equívocos em minha biografia, essa foi minha vida porque assim são minhas lembranças. “Com essa frase ele nos venceu”, sorri, resignado, o irmão do Nobel de Literatura 1982.
Mas o próprio irmão, que largou o trabalho como engenheiro para assumir a fundação criada por Gabo, certa vez o indagou sobre uma passagem do livro em que é citado. “Ele diz que eu dividia quarto com dois irmãos mais novos e passava noites pregando aos menores sobre filosofia e matemática. Eu nunca dormi no terceiro andar daquela casa, nunca dividi quarto com os irmãos que ele cita... Eu tinha três anos, como podia falar sobre matemática com alguém?”. A resposta foi simples e irrefutável: “Você não entende nada. Se você tivesse, naquela época, divido quarto com eles e fosse mais velho, com certeza passaria todo o tempo falando de filosofia e matemática”.
Verdades do coração
A anedota contada pelo irmão Jaime faz crer que de certa forma nem o próprio escritor consegue delimitar exatamente onde termina a realidade e onde começa sua criação. “Não há em minhas novelas uma linha que não esteja baseada na realidade”, costumava repetir Gabo. “Acho que ele aplicou em seu trabalho como escritor um pouco da ideia de um de seus mestres, William Faulkner, que fala sobre as verdades do coração. A história pode não ser completamente fiel aos fatos, mas, mesmo quando se inventam detalhes, há um respeito profundo pelas verdades do coração”, analisa Gustavo Arango.
A fronteira nebulosa entre o real e o fantástico existente na obra do Nobel colombiano às vezes chega ao cúmulo de ser o limite entre a história pré e pós-García Márquez. Em alguns momentos, mais do que moldar-la, o escritor consegue, alterar a história. O chamado “massacre dos bananeiros” (1928) quando os funcionários da United Fruit Company resolveram protestar pelas péssimas condições de trabalho e foram violentamente reprimidos pelas forças armadas colombianas é exemplar. Revisto após a publicação de “Cem Anos de Solidão (1967)”, o episódio tem hoje uma importância histórica muito maior do que há algumas décadas. Inclusive o número de mortos na matança que costuma ser o mencionado – os 3 mil que Gabo cita no livro é muito maior do que o estimado por historiadores. Ou seja, depois de 1967 o que foi uma violenta repressão virou um massacre com milhares de mortos.
Jaime Garcia conta que nos anos 1970 recebeu uma bonita carta do irmão que falava do futuro deles e do país e terminando com uma incumbência: levantar dados sobre o massacre, em especial o número de mortos. Depois de meses de pesquisa, mandou a resposta ao irmão: comprovadas, haviam oito mortes, 2.992 menos do que as citadas pelo escritor em sua obra.
A história de Sierva Maria de Todos los Ángeles é outro exemplo dessa capacidade de Gabo de transformar a realidade. A cripta é visitada diariamente, e a reportagem que nunca existiu não raramente é citada como uma das melhores do escritor, não só por seus leitores, mas no meio acadêmico.
“O que ele faz ao mencionar a reportagem que não existiu é usar um expediente para dar verossimilhança à obra, uma coisa comum entre os escritores. Todos sabiamos que não era verdade aquilo, mas hoje há peregrinação para visitar o túmulo”, diverte-se Eric Nepomuceno, escritor e amigo pessoal de Garcia Márquez.
Tradutor de alguns livros de Gabo, entre eles “Viver para Contar”, Nepomuceno minimiza a importância de se separar o real da criação na obra de García Márquez: “Quem conhece a América Latina sabe que tudo o que está na obra dele pode ou poderia ter acontecido”.
Em 1982, em seu discurso de recepção do Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez fez questão de falar sobre o tal realismo fantástico. Segundo ele, a realidade desse universo latino-americano é tão rica, que é preciso pedir “muito pouco” à imaginação. "O desafio maior para nós [latino-americanos] tem sido a insuficiência de recursos convencionais para fazer críveis nossa vida. Este é, amigos, o nó da nossa solidão."
Historinhas
Gabo recebeu pedido para mudar o final do livro
Ao finalizar “Do Amor e de Otros Demônios”, Gabo entregou o manuscrito do livro ao irmão Jaime e a cunhada Margarita. Eles já sabiam da história do livro, mas não conheciam o final. Margarita passou a noite lendo o manuscrito e, no dia seguinte, quando encontrou Gabo, lhe fez um comentário e um pedido: havia gostado muito da novela e nem um pouco do final. Tentou convencê-lo de que Sierva Maria não podia morrer. “Argumentou que em todos os seus livros, exceto ‘O Amor nos Tempos do Cólera’ (1985) tinham finais tristes e de que os personagens, desta vez, mereciam ser felizes”, conta Jaime.
Solidário à dor da cunhada, García Márquez tentou convencê-la de que, no contexto da obra, Cayetano Delaura não tinha outro destino do que aquele, permanecer só. Fez Margarita entender que ele, apenas um escritor, não podia mudar o final daquela história, que já estava escrita havia séculos antes de publicada. Só pôde, ao lado da cunhada, lamentar a má sorte que tiveram Sierva Maria e Cayetano Delaura, reféns, não de um escritor e seus desejos, mas de um destino que sabe quem governa com uma força imutável há séculos. E Margatina aceitou os argumentos de Gabo? “Não. De modo algum”, responde, risonho, Jaime García.
Presente
O título do livro escrito por García Márquez em 1994 foi dado de presente a ele pelo cineasta brasileiro Ruy Guerra. Quem conta a história é Eric Nepomuceno. "Em 1991, o Ruy me chamou para escrever um roteiro de um filme com ele, que se chamaria 'Lua Negra'. No meio do trabalho, ele mudou o nome para 'Do Amor e de Outros Demônios', título que para mim não dizia nada. Então veio o Collor, o filme nunca foi rodado, e um dia o Ruy contou essa história para o Gabo. Ele ficou encantado com o título e disse que seria perfeito para uma novela que estava escrevendo. O Ruy, então, deu pra ele de presente esse título."
“Dou de presente para você os direitos. Faça”.
Em 2005, em uma oficina de cinema em Cuba, Gabriel García Márquez conheceu a cineasta costarriquense Hilda Hidalgo. Durante o curso, em uma conversa, ela comentou com o escritor que achava que de todas as suas novelas a que melhor poderia ser adaptada ao cinema era “Do Amor e de Outros Demônios”. Lamentou que ninguém nunca tivesse feito. Gabo então lhe disse: “Dou de presente para você os direitos. Faça”.
Hilda Hidalgo precisou de dois anos para escrever o roteiro e encontrar os atores. A colombiana Elisa Triana, de 13 anos, foi a escolhida para fazer Sierva Maria de Todos Los Ángeles. Cayetano Delaura será o espanhol Pablo Derqui, de 28 anos.
* * * * * * * *
Ricardo Viel, jornalista, atualmente mora e trabalha em Lisboa, Portugal.